Kabengelê Munanga
Se a vida fosse como a música, acredito que não estaríamos aqui para falar de paz. Falar de cultura de paz pressupõe dominar minimamente a temática da cultura da violência, o lado avesso e extremamente complexo que envolve diversas disciplinas como Sociologia, Antropologia, Psicanálise e as Ciências Naturais, como Biologia, Zoologia, Etologia etc.
Vivo o estado de violência desde que nasci, uma vez que pertenço ao continente mais violentado da História da humanidade nos últimos 800 anos. São dezenas de gerações de homens e mulheres do continente africano que nunca conviveram com a paz, nem se quer pensaram em construir uma cultura de paz. Do tráfico e da escravidão árabes, por volta do século VIII, ao tráfico ocidental dos séculos XV e XVI, passando pela colonização do século XIX, as guerras, independências do século X e guerras fratricidas podem ser explicadas e perpetuam-se até hoje. São violências de origem externa, por razões de natureza econômica, como a busca da mão de obra gratuita. O processo de “escravidade” para desenvolver as colônias ocidentais nas Américas explica o tráfico e a escravidão. Por fim, a violência de natureza econômica em busca de riquezas naturais, como terras, essências minerais e vegetais, para desenvolver as metrópoles do Ocidente, justifica e explica a invasão colonial e o colonialismo.
Paradoxo: violência para combater violência. Há ainda os interesses geopolíticos estratégicos que, durante a Guerra Fria, engendraram outras violências no continente africano: físicas – como torturas, trabalhos forçados, enforcamentos, mutilações corporais, decepamento de membros etc – e simbólicas – como a negação da própria humanidade do homem e da mulher africanos, de sua história, a destruição sistemática de suas culturas, religiões, filosofias e visões de mundo etc. Por meio de seus líderes, os povos africanos, achavam que havia um só caminho para restabelecer sua dignidade humana e defender a liberdade: as independências. Tentaram obtê-las por meio de negociações políticas pacíficas, manifestações populares de rua e boicotes que até causaram impacto. Mas tendo os países colonizadores – França e Portugal – recusado o caminho da paz, restou aos africanos a violência para poderem libertar-se. Parece um paradoxo, usar uma violência para libertar-se de outra. O caminho da negociação teria gerado saldo positivo, sem dúvida, pois não teria ceifado tantas vidas. Os africanos tentaram, mas infelizmente sua poesia não conseguiu desarmar os invasores armados de metralhadoras e baionetas.
Oito milhões de refugiados. Teoricamente, as independências africanas significavam o fim das violências eternas e a construção de um futuro de paz. Porém, os processos de construção das novas nações foram semeados de conflitos sangrentos que até hoje sacrificam milhares de vidas – os chamados conflitos étnicos ou, como relatam os jornalistas, as guerras tribais. Para mim, são simplesmente guerras civis. Desde a década de 1960, época das independências da maioria dos países africanos, cerca de uma trintena de guerras aconteceu, a maioria no interior dos Estados. Apenas em 1986, 14 dos 56 países africanos sofreram conflitos armados. O saldo é uma legião de mais de oito milhões de refugiados, e seu imenso deslocamento aos campos de confinamento, além das mortes incontáveis. Ao apresentar seu relatório ao Conselho de Segurança sobre as causas dos conflitos, a promoção da paz e o desdobramento durável, o Secretário-geral da ONU reconheceu a falência da instituição, notadamente por não ter evitado as tragédias na África.
Ditaduras e apoio externo. Na atual República Democrática do Congo, onde nasci, os conflitos eclodiram apenas dois meses após a independência, em 30 de junho de 1960.Convivemos durante 33 anos com a ditadura militar, estando todos os poderes concentrados nas mãos de um general apoiado pelos Estados Unidos, pela França e pela Bélgica, entre outros países. Ao final dessa ditadura, em 1997, o novo regime resultante das guerras armadas implantou outro poder antidemocrático, levando novamente à explosão das guerras civis, que resultaram em 3,5 milhões de mortos – o segundo genocídio conhecido depois da Segunda Guerra Mundial. A guerra de Ruanda, em 1994, durou menos de um ano, com o trágico balanço de cerca de 800 mil mortos. Angola, depois de 15 anos de luta para obter sua independência política, travou algo em torno de 30 anos de guerra civil para fortalecer um poder contra seus inimigos internos, mas sempre com o apoio externo de alguns países ocidentais. Moçambique submergiu também em uma guerra civil de dez anos contra a oposição interna de Ranan, sustentado pelo regime segregacionista da África do Sul. A Nigéria, país mais populoso da África negra, viveu entre 1963 e 1970 três anos de guerra civil opondo o poder central a Biafra – nome tomado pela região sudeste separatista rica em petróleo –,sempre com apoio externo. Essa guerra de Biafra teria deixado um saldo de dois milhões de mortos, alguns devido à fome. Dos 33 golpes de estado perpetrados na África Ocidental até1985, Nigéria sozinha soma 18. A Costa do Marfim, considerada uma pequena ilha de paz, cuja independência foi obtida pacificamente em 1960, por negociação com a metrópole francesa, está também há cerca de três anos em uma guerra civil ainda não resolvida. O Sudão é outro caso conhecido da violência em terras africanas.
O porquê dos conflitos. A lista dos conflitos violentos na África pode ser alongada com a inclusão de Burundi, Congo, Etiópia, Guiné-Bissau, Libéria, Somália etc. São poucos os países africanos que não passaram por conflitos violentos armados. Todos constituem violação dos direitos humanos, começando com o mais fundamental de todos: o direito à vida. Dezenas de milhões de vidas feneceram no continente africano em apenas meio século das independências. Se alguém perguntar quais são os motivos que levam essas guerras a acontecer dentro dos Estados, e não entre eles, e alguém sugerir que elas resultam d a natureza dos povos africanos, incapazes de viver em paz, essa será uma resposta no mínimo racista e ainda sem solução. Um rápido olhar crítico para a história da humanidade mostra que, a violência não é exclusividade da África negra. O processo de construção de diferentes Estados, do impérios em todos os lugares, foi acompanhado de violência. Duas guerras mundiais, conflitos que há anos se arrastam pelo Oriente Médio, o que aconteceu entre Iraque e Irã, Iraque e Kuait, a Líbia bombardeada em pleno dia pelos Estados Unidos, alguns anos atrás, Yamoussoukro, Bálcãs. A lista é longa. Isso significa que as violências coletivas em escala planetária, sem contar as físicas e individuais, resultam da má distribuição da renda, da pobreza e da miséria que atingem a maioria dos jovens dos países, principalmente os pobres.
Em uma obra monumental coordenada pelo sociólogo americano Ted Robert Gurr1, uma equipe de pesquisadores coloca em evidência a importância quantitativa de violências resultantes dos conflitos nacionalistas desde a década de 1960. Se entre 1944 e 1960 omundo conheceu 62 conflitos etno políticos, esse autor contabilizou 226 conflitos entre 1960e 1994. O pesquisador prevê um crescimento provável desse tipo de conflitos nos próximos anos – a maioria praticamente como resultado das lutas pelo poder no seio de Estados-naçãomais ou menos em constituição. Eles provêm também dos fenômenos tradicionais emandamento em numerosos regimes da África, desde o acesso à independência ao desmoronamento do bloco do Leste.
Os nacionalismos. Todos os livros sagrados – Alcorão, Bíblia, Torá – pregam a paz e o amor entre seres humanos e as sociedades. Isso nos leva a crer que os conflitos não vêm das religiões, mas das pessoas políticas que as pregam. Mas como operar a ligação entre nacionalismo e violência? Ao falar em nacionalismo, de maneira sucinta, é preciso distingui-lo classicamente em três formas: a nação cívica ou política, que constitui a forma moderna; sua forma de gestalt, o nacionalismo cívico que se quer aberto para incluir o maior número de cidadãos em torno da aceitação das regras comuns de um contrato social que tem o Estado como fiador; e o nacionalismo cultural, fundamentado na partilha em comum de um legado de memórias e tradições, e de uma herança cultural e linguística que une uma comunidade, oferecendo-lhe afabilidade e densidade, certa maneira de viver em comum. Por vezes, embora o Estado participe ativamente na construção dessa herança comum, é possível que o nacionalismo cultural se produza contra o Estado, ou sobre seus flancos, ao propor um modo de vida em comum cívica que seja alternativo ou oposto ao nacionalismo contratual. E há que se considerar o nacionalismo étnico: a afirmação de uma distinção de formação étnica, por vezes vivida e construída em nível superior em relação ao centro político. Aqui, a rejeição da outra comunidade se opera sob o registro orgânico, racial, sob um fundamento transcendental, como a religião, que não supõe nenhuma discussão ou outro compromisso.
Os três nacionalismos, praticamente extintos, podem fundir-se ou cruzar-se parcialmente quando um Estado-nação desenvolve uma ideologia racista que o leva a rejeitar certos elementos comunitários com base em um pressuposto étnico ou cultural. O nacionalismo étnico carrega inevitavelmente uma parte da violência, da qual, aliás, não faz nenhum mistério. Já as outras formas de nacionalismo conhecem também suas próprias patologias: o fechamento mental que acompanha o nacionalismo cultural, sempre preocupado com sua pequena diferença, fornece facilmente o suporte da violência, como atesta a autoridade dos nacionalismos periféricos na Europa, pois muitos usam armas para expressar a busca do reconhecimento dos seus direitos culturais. O nacionalismo cívico apresenta igualmente uma patologia quando recusa a diferença em seu seio ao unificar, menosprezando as vontades ou absorvendo uma pluralidade cultural inerente ao espaço público, em nome de uma melhor eficácia política, de uma representatividade fiel ou de simples desejo de desafiar os estados rivais. Por fim, pode-se ousar afirmar que o nacionalismo carrega em si um princípio de violência. Pouco importa sua forma, seja cívica, cultural ou étnica. Se o nacionalismo como princípio concreto é uma necessidade para oferecer afabilidade a uma comunidade de homens e mulheres que não poderiam viver sem unidade, ele se torna perigoso quando pensado como um projeto político ou como um valor, cuja realização se torna uma finalidade em si, não somente um meio.
A ancoragem cultural da violência. A violência é também o resultado de um aprendizado que, em alguns lugares, se efetua sob certas circunstâncias por meio da colocação em destaque de figuras heroizadas de narrativas familiares de organizações adaptadas. Entre as condições socioculturais de peso que condicionam ao mesmo tempo a entrada e as formas de violência, o meio ambiente geográfico e o meio ambiente democrático têm uma posição de destaque. A topologia regional pode ter forte incidência na decisão de se juntar a um grupo armado e sob a dinâmica da violência que se instala em uma região. Exemplos disso é o isolamento montanhoso em certas aldeias, como na Chechênia e no Afeganistão, e a densidade urbana, sinônimo de anonimato, como no Paquistão ou no Iraque, que podem favorecer a entrada na violência de um indivíduo constrangido pela solidariedade étnica. Além do meio ambiente, o peso das tradições também encoraja a ação violenta, pois a obediência a palavras de ordem violentas pode revelar-se determinante na aceitação coletiva dos transbordamentos conflituosos.
Em seu artigo sobre a sociologia dos massacres, o sociólogo Jacques Sémelin2sublinha,com razão, o peso da tradição da obediência nas culturas cambojana e japonesa, explorado com muita habilidade por esse poder político de inspiração nacionalista. A transição para o ato ultraviolento em situação de guerra é viabilizado por todo um código de honra embasado na submissão da vontade individual às aparentes necessidades do coletivo importadas pela hierarquia. Todos nós conhecemos os camicases. Analistas e testemunhas afirmam, a respeito da responsabilidade pelo genocídio como consequência do condicionamento a que a massa camponesa foi submetida, obedecendo a um padre de Ruanda, que essa pele de submissãocultural aplica-se ao caso dos massacres nesse país. “Tenho a impressão de que os camponeses são sinceros e que não se sentem responsáveis pelos crimes que cometeram pela submissão à autoridade”, disseram jornalistas que enviaram informações.
Cultura de obediência, opressão dos pares no momento da transição para o ato violento, a ideia da tradição, da incitação à violência, nada disso pode ser desconectado da realidade sociológica, do meio no qual essas violências acontecem. O terreno africano serve muitas vezes de ilustração a essa tese de uma ancoragem cultural da violência, partindo dos castigos corporais com objetivo educativo na sociedade africana, passando por tradições que congestionam a vida dos habitantes, chegando até o lugar pouco invejado reservado às mulheres e aos fracos em um universo rude. O africano comum é submetido a uma multidão e violência que alimenta e naturaliza os conflitos mais políticos e mais visíveis a uma profusão de atos violentos que alimentam e tornam banais os conflitos mais políticos e mais visíveis. Embora eu não seja especialista, estas são apenas algumas tentativas para explicar um pouco por que as violências acontecem e se reproduzem em várias sociedades.
Aids, uma violência a mais. Como se não bastasse a violência de natureza política, a situação complica-se ainda mais porque, há cerca de 20 a 25 anos, outra forma de violência, que vem das doenças e das calamidades naturais, tornou ainda piores as condições na África. Uma dessas violências é a Aids. Sem dúvida, essa doença constitui uma grande preocupação para a humanidade, mas a Europa permanece em estado de alerta, ao passo que a África é mais atingida. Neste continente, morrer de fome é tão comum que as mortes causadas pela Aids são simplesmente mais uma maneira de morrer. A questão que se coloca é saber como serão as coisas no próximo milênio, ou ainda neste milênio, para as futuras gerações. Desde que o vírus começou a se propagar, 34 milhões de pessoas na África ao sul do Saara teriam sido contaminadas; desse total, 11,5 milhões já morreram. Apenas em 1998, a Aids matou dois milhões de africanos. Nenhum país da África escapou da Aids, embora alguns sejam mais castigados do que outros. Em Botsuana, por exemplo, onde mais de 25% dos adultos estão contaminados, as crianças nascidas no início desta década terão uma expectativa de vida de apenas 40 anos, ao invés dos 70 anos que viveriam se não estivessem contaminadas. Em muitas regiões da África ao sul do Saara, as chances de sobrevivência das crianças são menores, ao mesmo tempo em que aumentam as taxas de mortalidade infanto-juvenil, suprimindo as vitórias conquistadas no decorrer dos anos. Nos países africanos mais atingidos, a Aids compromete também a economia, ao dizimar trabalhadores mais qualificados. E ainda mais grave, a Aids acarreta outras doenças, como tuberculose e parasitose, que, embora curáveis, continuam a causar milhões de mortes devido à falta de estruturas médicas indispensáveis.
Assim como a paz, a violência também não é um fenômeno natural. É difícil construir um processo de paz na África. Mas não é impossível. Na história da humanidade, tanto a paz quanto a violência devem ser entendidas como resultantes de processos históricos, nunca como fenômenos naturais. Ambas resultam de processos sociais, políticos e históricos. Tome-se como exemplo o campo de batalhas que um dia foi a Europa, que depois da Segunda Guerra Mundial construiu seu processo de paz, hoje ilustrado pela União Europeia – que, infelizmente, não contribui, ou pouco contribui com o processo de paz nos países africanos, antes suas colônias. Mas creio na solidariedade, como também penso que ninguém salvará os africanos se os povos africanos não se salvarem. E apesar das dificuldades alguns esforços estão sendo desenvolvidos nesse sentido. Podemos considerar que é um sonho. Talvez aminha geração não o veja realizado, mas talvez as gerações dos netos dos nossos netos possam conviver com essa desejada paz no continente africano. Hoje existe na África uma organização para enfrentar coletivamente os problemas e as dificuldades africanas. Criada em outubro de 2002, em Abuja, capital da Nigéria, tem por objetivo principal a erradicação da pobreza no continente e a colocação dos países africanos, individual e coletivamente, no caminho do desenvolvimento e do crescimento sustentável, para deter a pobreza e a marginalização no processo de globalização.
Embora tenham consciência de que a África deve contar com suas próprias forças, esses dirigentes africanos ainda acreditam na solidariedade internacional. Por isso idealizaram uma organização chamada NEPAD, uma nova parceria multilateral. Além de contar com o apoio da NEPAD, a União Africana pretende desenvolver novos mecanismos de regulação de conflitos, notadamente a criação de uma força de paz. Para o futuro, pretende criar também um banco interafricano de desenvolvimento, um tribunal de justiça interafricano e uma moeda comum. São novos desafios a serem enfrentados, e é ainda muito cedo para avaliar seu sucesso ou insucesso no continente, cuja maior parte dos países ainda é frágil e depende das antigas metrópoles e potências do mundo ocidental.
Os direitos sociais, como bem-estar social, educação, saúde, alimentação, que são conquistas das lutas democráticas, são quase inexistentes em muitos países africanos. A violência prejudica os processos de construção das nações democráticas, mas alguns dirigentes africanos ainda insistem na condição de Estado-nação, em vez de aprofundar o caminho de construção de estados multinacionais, que refletem melhor as diversidades étnicas ou culturais da grande maioria dos países africanos. Enfim, é um longo processo. Não creio que venha cair do céu, porque no mesmo momento em que fazem seus discursos em fóruns internacionais prometendo ajudar a África, os fabricantes de armamentos continuam produzi-los e a conseguir grandes lucros em todas as partes do mundo. Acredito que a África conseguirá construir internamente seus mecanismos de solidariedade e de fim da violência, mas a construção dessa fase só pode ocorrer por meio da união entre os países africanos. Só assim conseguiremos a tão almejada cultura de paz.
KABENGELÊ MUNANGA. Professor titular do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, vice-diretor do Centro de Estudos Africanos da USP, e autor de mais de 80 publicações, entre elas: Estratégias e políticas de combate à discriminação racial, Edusp,1996; Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Identidade nacional versus identidade negra, Ed. Autêntica, 2003;Para entender o negro no Brasil de hoje, Editora Global, 2006; e Superando o racismo na escola, MEC, 2005
Cultura de Paz – Da reflexão à ação
Coleção em parceria com UNESCO, Fundação Vale, Fundação Palas Athena, 2010.
Acesse o site do www.comitepaz.org.br para fazer o download do livro.

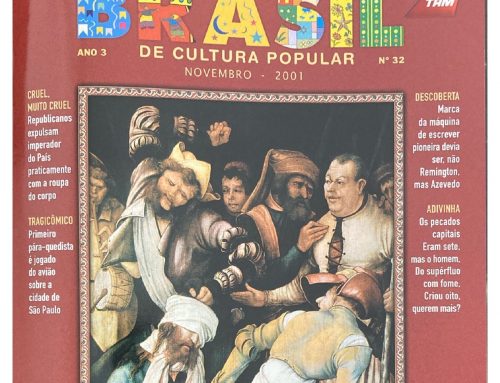




Deixar Um Comentário
Você precise estar logged in para postar um comentário.